
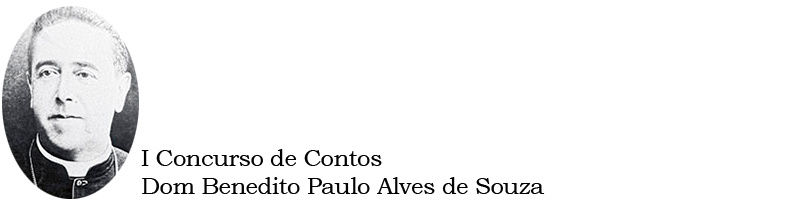
1º lugar: Douglas Luís Binda Filho
Autofuneral
Matei-me. Vejo meus pedaços apregoados e esfacelados pelo campo verde nesta floresta de eternas árvores. Encaro essas peças que um dia já me serviram. Como posso querer voltar a pertencê-las? De certo modo, essa ideia vem à mente. Estou de pé. Paro de pensar no passado. Meu corpo morreu... Não tem mais volta.
Decido pôr o corpo inanimado no saco. Tenho de juntar alguns dedos que se desagregaram e a cabeça que arrebentou. Como somos frágeis... Nesse momento, todas as minhas memórias são um cérebro esmagado à minha frente. Recolho esse pedaço de anamnese e sigo em frente. O azul do céu é meu comparsa.
O corpo pesa tanto! Por um tempo, cheguei a crer que essa coisa colossal era a alma. Não sei se minha alma vive. Minha alma vive? Daqui, só vejo restos mortais em um saco. Meu Deus, que angústia me ver compactado! Por que me abandonaste? Há só uma carne miserável dentro desse compartimento. Que apreensão ver minhas peças distribuídas assim, sem cuidado.
Coloco o saco pesado no porta-malas do meu carro preto. Acho que as pessoas que se apaixonam pelas cores escuras sentem-se abraçadas por essas pigmentações de tristeza. Elas não julgam as prostrações... Elas nos incorporam dentro delas.
Estou dentro do carro. Fito-me ao espelho e observo olhos chorosos de alegria. Não tem sentido, pois, explicar paradoxos. Fito-me. Avalio-me. Estou apto a me autofunerar.
A chuva decide abraçar a minha velocidade. Enquanto corro nesse automóvel de constatações, ela me obriga a refletir: Quem sou? Pelo que sou? Por quem sou? A resposta é rápida e me constringe: eu me sou por saber morrer. Afinal, eu desfaleci e estou apto a me levar para o encontro com o subsolo, onde encontram-se amigos que já não retornam minhas cartas. E quantas cartas...
À frente da pista, contudo, avisto um corpo. Minha velocidade intensa não permite que eu pare. Já não se pode interromper uma vontade. O ser que me observa segundos antes de ambos morrermos sou eu, estático e fragilizado ao encarar a minha nobre inconsequência. Matei os dois lados de mim: o eu automóvel e o eu perdido no meio da estrada. Matei-me.
Meus últimos segundos de vida antes de encarar o vidro do para-brisa foram reservados para o que antes já me havia sido advertido: memórias, por todas as partes; memórias, ao escorrer pelo diagrama do tempo. Sou o último tópico disso tudo.
Meus restos no porta-malas parecem gritar e meu corpo à minha frente também. Estou gritando em um escuro intenso. Não me lembro como era, como estou. Não me lembro das coisas coloridas. O preto realmente abraça a gente... Acho que ele é a cor do amor.
Matei-me.
2º lugar - Jonas Rosa dos Reis
O mercador de histórias
João Seinão tentava furtar a casa do rico comendador Camilo quando vazou pelo telhado, trombou com estante de parede inteira e foi soterrado pela avalanche de livros quando se espatifou no chão do velho sovina. Ele caíra de costas e pensou que estivesse morto, tão morto quanto um defunto triste. Não sentia as costas, os braços, as pernas, não sentia nada. Devia mesmo estar morto. Havia uma biblioteca em cima dele, mas ainda assim João Seinão via um caleidoscópio de estrelas movendo-se diante de seus olhos, besouros luminescentes zombando dele na escuridão de seu infortúnio.
“Livros, são livros”, João Seinão deduziu. Ele os sentia pelo cheiro de páginas amarelecidas de tempo, o formato retangular que se espalhava sobre seu corpo, comprimindo-o contra o chão frio. E a textura daquelas capas, umas duras, grossas, outras molengas como minhocas, finas de dar dó.
Ah, a ironia da vida! João Seinão, que não sabia ler e nunca se sentara com um livro nas mãos, estava ali estatelado, suportando a gravidade das loucuras de Dom Quixote, toda a tensão das noites de Sherazade, pressionado pelas raízes de baobá de um asteroide, sujeito a perigos tão distintos quanto a sedução do canto de sereias ou as agruras da madame chamada Bovary.
O cérebro ordenava que João Seinão fizesse algum movimento, só por instinto de sobrevivência, vai. Mas João não gostava de pensar. Apesar disso, desenvolvera na rua um espírito ágil, que reagia a qualquer ameaça de trabalho ou compromisso. “Essa vida boa vai acabar, Seinão”, algum feirante provocava em meio ao burburinho do mercado, quando ele passava saltitante, cumprimentando as senhoras e fazendo divertidas mesuras às moças. “Sei não, se tiver de acabar que seja em melancias sem caroço”, respondia rindo.
Mas agora João Seinão estava imerso naquele mar de palavras, sonhos e fantasias. E então ouviu a voz do comendador.
– É você de novo, João?
O comendador escalou a colina de livros, afundando até os joelhos na cultura universal. “Ai, meu Deus, estou pisoteando Salinger... Mas você não é o Caulfield, João. Não é tão esperto.” Ele alcançou João Seinão e içou o rapaz pelo braço. João Seinão emergiu respirando avidamente.
– Desculpe, comendador... eu estava passando...
– Passando o quê, João? Passando pelo meu telhado e a esta hora? Nem amanheceu ainda, criatura!
– Sei não...
O comendador arrastou João Seinão e o fez sentar-se à mesa do café. E só por esse gesto João Seinão pressentiu sua desgraça, porque ninguém tivera antes tamanha intimidade na casa do comendador; ninguém entrava na casa do comendador; ninguém conseguira ao menos um emprego de serviçal na casa do comendador depois que aquela moça trabalhou lá alguns meses e deixou misteriosamente o vilarejo.
– Vou lhe fazer um favor, João. Eu devia mandar prender você, mas vou lhe dar uma alternativa: você vai embora do meu vilarejo.
– Mas… como vou viver?
O comendador pegou um grande saco de couro. “Tome, não vou nem olhar. Encha de livros e vá. Venda, faça o que quiser, mas não volte”.
Curvado sob o peso de amores e dramas do mundo, João Seinão partiu por uma estradinha de chão ladeada por casas de taipa.
Muitas vezes João Seinão pensaria em voltar, mas sabia como eram tratados os criminosos daqueles tempos. Policiais montados costumavam levar à frente da montaria, trôpego, com o tronco nu e amarrado por cordas, algum ladrão de galinhas com o lombo lanhado de chicote.
O vilarejo sentiu o sumiço de João Seinão. Aonde teria ido? Arranjaram-lhe trabalho? “Não se pode ser vagabundo para sempre”, diziam. “Desapareceu como apareceu naquele cestinho abandonado na praça”, observou um feirante mais velho.
Na estrada, quando a fome apertava João Seinão fazia uma cara feliz e batia numa porta.
– Bom dia! Tenho histórias que vão alegrar sua casa por muitos anos.
Ele descansava o saco no chão e tirava um livro que poderia ser A montanha mágica, Moby Dick, Passagem para a Índia ou qualquer outro.
– Este livro contém maravilhas que vocês não vão se cansar de contar por aí...
– Não podemos comprar nem sabemos ler, moço – era a resposta que ouvia da gente da roça. – Leia pra nós...
João também não sabia ler, mas puxava da memória alguma história ouvida em sua infância de rua.
– Este livro fala da casa assombrada de João Santarém...
Logo ele estava à mesa comendo, contando a história.
– ... e depois de passar a porteira e atravessar o quintal o fantasma continuou puxando sua corrente, e dizia: “Eu entro na Casa de João Santarém...”
Ele ganhava pousada e à noite vizinhos acotovelavam-se em volta com a família, as crianças escondendo-se pelos cantos.
– ... e as correntes tilintavam pelo chão e o cheiro podre tomava conta da casa e o fantasma continuava: “Eu entro no quarto de João Santarém...”
O tempo passava e no vilarejo os feirantes sentiam falta de caçoar da vida boa de João Seinão. As senhoras olhavam em volta à procura de seu cumprimento feliz e as moças já não tinham quem lhes fizesse mesuras divertidas. Um dia, muito abatido, o comendador Camilo chamou em segredo o tabelião Getúlio.
Enquanto isso, João Seinão cumpria sua sina pelo mundo. Certa vez, com um volume de Em busca do tempo perdido aberto nas mãos, ele narrava como Cancão de Fogo surpreendia a todos desde o berço:
– ... e todo mundo se admirou, porque no primeiro banho o menino disse para a parteira: “Que água fria, minha senhora...”
Em outra ocasião, tentando vender Vinte mil léguas submarinas, contou como um rapaz se apaixonou por uma donzela e construiu um pavão misterioso e voava para visitar a amada trancada pelo pai numa torre.
Mas os anos passam e levam a vida com eles. Um dia, velho e cansado, João Seinão chegou à cidade que fora seu feliz vilarejo. Quando percebeu onde estava abordou um desconhecido na rua.
– Esta cidade tinha um comendador…
– Sim, mas isso foi há muito tempo.
– O que aconteceu com ele?
– Morreu de tristeza há muitos anos, quando descobriu que um rapaz que ele expulsara da cidade era seu filho.
– Filho dele?
– Sim, foi encontrado bebê na praça, em cesto deixado pela antiga empregada. O comendador deixou todos os bens para o filho, mas o rapaz nunca voltou.
O velho mercador se despediu e arrastou os pés para fora da cidade. Seguiu pela rua movimentada que um dia fora simples estradinha de chão ladeada por casas de taipa.
*
3º lugar - Gabriela Goulart Booni
O colecionador de Nuvens
Se as palavras se debatem em seu crânio — suaves como o sopro de uma borboleta, agitadas como uma revoada de pássaros — deixe elas pousarem nas páginas brancas. E de lá elas jamais escaparão.
(Trecho retirado das ruínas de um banheiro público, 1Ab-2 Depois do Fim)
Ele era escritor de palavras mortas. Eram como chamavam a linguagem que ficou para trás, a linguagem que morreu com o mundo.
Quem matou o mundo? as crianças pichavam nos cascalhos restantes, em pinceladas irregulares, em tijolos poeirentos, aqueles que ainda não viraram pó. Mas realmente importava? Ele achava que todos tinham sua parcela de culpa, mas ninguém andaria cantarolando a responsabilidade nas ondas das rádios pirata sobreviventes. Guerras, lixo ou qualquer outra invenção humana. Humanos.
Era o último cartógrafo dos velhos mundos. Desenhava vales e colinas que não existiam mais. A grama verde sépia voltava a crescer no solo aerado, estéril por milhares de anos. Talvez não milhares. Talvez milhares fosse uma mera miragem de sobrevivente. Pouco menos de centenas. Dezenas parecia tão impossível quanto provável.
Uma a uma, ele estancava os pinos na areia seca, entre as colinas de terra batida. Nem mesmo as rochas sobreviveram. As correntes atadas aos pinos eram carregadas de lanternas alógenas, formando um risco curvo ao luar até a rede que prendia a nuvem. Caminhos brilhosos se dispersavam no céu montando sinais até as colônias próximas. Como mapas de gaiolas gasosas no céu. Milhares de flocos de nuvens presos em redes oxidadas para mostrar o caminho que a terra seca escondia debaixo de dunas errantes.
E sempre havia um suvenir. O choque da rede que envolvia as nuvens criava pequenos cristais que caíam como chuva — a única chuva que existia agora. Ele colecionava as pedras em formatos irregulares estranhos dentro de seu coldre. Não havia outra necessidade para ele em uma terra solitária. Nem mesmo os animais do céu ousavam sair de suas tocas.
Estava sozinho há um ano quando a encontrou.
Mapeava a costa leste — era o que dizia a rede de nuvens — pregando pinos de ferro amassados.
Era uma coisinha pequena de longos cabelos da cor que o céu um dia fora, antes de tudo. Carregava apenas uma bolsa com quatro moedas multicolores. Vestia as roupas dos antigos sábios, das eras de ouro do conhecimento científico, das eras que destruíram as luas de saturno e venderam como pedaços de joias. Ela diz se chamar Relva, como a planta rasteira de outrora. Vem de longe, das colinas de sal de Malbeque, a quatorze dúzias de nuvens a oeste do posto.
— Quem matou o mundo? — ela pergunta.
Ele não sabe responder.
Ela devora parte de sua gororoba gorda e água das nuvens de seu cantil.
— Por que vocês acreditam que alguém ou alguma coisa matou o mundo? — ele pergunta finalmente.
— O mundo era vivo — ela diz com fervor. — Rios corriam como a areia corre de dunas agora, montanhas eram verdes e águas doce como esse substituto amargo jamais pode alcançar. Pássaros flutuavam no céu, peixes corriam pelos rios. Florestas viviam.
— Mas por que morto? Por que não apenas adormecido?
— Porque as palavras morreram — sua voz é suave e triste. — Ninguém se lembra de como chamávamos os rios, ou mesmo o nome das florestas. Ninguém se lembra do nome dos animais e das coisas vivas. Ninguém se lembra do nome dos livros ou mesmo se existiram bibliotecas. O passado é uma língua morta, tanto quanto está morto. Sem passado, não há presente.
Ele reflete por um instante. As estrelas também morreram. O céu é da cor de uma tempestade seca. Então ele mostra para ela. Guardada debaixo de uma camada de poeira as pepitas caídas das nuvens estão amarradas em duas redes firmadas por fios de aço, como dois vitrais. Asas de nuvens, ele diz chamar.
— Asas de nuvens — ela repete, e o som que sai pela sua boca é mais bonito ainda.
— Quando estiver completo, eu voarei com as nuvens. Mapearei o mundo lá do alto, onde as nuvens moram.
— Sonhos — ela diz.
Pelo menos algumas palavras não morreram.
***
O Sol agora é uma grande estrela sem direção.
Ela corre nas sombras das nuvens, criando poeira de vento. Enquanto ele mede as cumulus nimbus, mais gotas de nuvens caem em pepitas. Falta pouco para as asas ganharem força e tamanho. No meio do dia ela risca palavras na areia selvagem. Palavras mortas, ela diz.
Flores, cheiro, mármore, amor, luzes, sabor, perfume, sexo, selva, fogo, folhas, amora, abóbora, jogos, xadrez, moda, lua, nebulosa, mar, guerra, paz, pureza, beleza, fruta, delicadeza, doce, amargo, bem, mal, gordo, magro, beleza, jardim, café, chá, livros, perfume, lilás, alcachofras, morangos, ervas, concreto, camomila, alecrim, Relva.
Há gotas salgadas de suor em seu rosto quando ela termina.
***
Relva se deita em seu saco de dormir depois de uma semana de sua chegada. Ela lhe dá um beijo de boa noite e conta histórias de terras distantes. Ele acredita em cada palavra porque ela lhe diz para acreditar. Sobre estrelas cadentes e muros que foram derrubados por revoluções. Sobre guerras mundiais e seus mortos. Sobre um mundo dividido por linhas em folhas de papel.
— Como você pode saber de tudo? — ele lhe pergunta certa vez, quando as estrelas eram pingos dourados em um céu cobre.
— Porque eu sou tudo, meu bem — responde ela e se aninha em seus braços. — Sou todas as histórias.
Quando a manhã se abre com sua luz atravessada ela não está mais ao seu lado. Suas palavras foram varridas do deserto de dunas assim como sua presença. A marca da ausência de poeira onde suas asas costumavam repousar é o único rastro palpável de Relva; e os fios cortados um a um, deixando um rastro de nuvens soltas no céu.

1º lugar: Lucian Rodrigues Cardoso
Pode tocar que é nossa
Nesse momento em que vivemos o mundo de ponta-cabeça, como definiria um historiador inglês, durante uma semana anunciou-se na TV a reprise da final da Copa do Mundo de 1994. Minha primeira reação é de uma grande empolgação, afinal, foi uma das primeiras seleções que eu me lembro de ter visto jogar. Seria também um bom pão e circo nesse momento de opressão. Mas, o mais importante, valeria a pena, agora, como historiador formado e boleiro aposentado, estudar como se jogava futebol na época, as palavras e gírias que Galvão Bueno usava nas narrações e a estética da transmissão dos jogos. Além disso, na dimensão mais pessoal, seria possível aferir se fiz uma boa escolha quando, durante toda a infância, escolhi o Baixinho para ser minha referência futebolística nas peladas de rua e escolinhas de futebol.
Lembrando daquela competição, apesar de ter empatado no último jogo de sua chave, o Brasil classificou-se em primeiro lugar. Nas oitavas, quartas e semifinais, fora vitorioso. Não a ponto, é verdade, de se dizer que a adversária do último jogo, a Itália, estava no bolso. Entretanto, independente do resultado final, já era uma excelente campanha, haja vista que o Brasil chegou à competição desacreditado e profundamente abalado. A campanha nas eliminatórias não empolgou e, cerca de um mês antes, o país perdera um de seus ícones, o piloto Ayrton Senna.
Como prova da não empolgação, na política, mais de um ano antes, o país havia definido a República como regime e o Presidencialismo como forma de governo. O povo escolheu que havia passado o tempo dos reis, mantendo-se somente os títulos de craque, presidente e capitão de seleção. Mas, se na frente da seleção havia um capitão Dunga, no mesmo ano da Copa, a famosa CPI dos Anões do Orçamento pedia a cassação dos outros 18, que não respeitavam a torcida por um desempenho melhor de nosso regime.
Na economia do período, após diversas alternações entre planos econômicos e políticas de “feijão com arroz”, é lançada uma nova tática: um plano que se tornou o marco de nossa República. O chamado Plano Real previa o fim da hiperinflação com um rígido controle inflacionário, além da estabilização econômica. Boa parte dessa meta seria alcançada com o afastamento da res publica do povo: por meio da contenção de gastos públicos, privatizações, redução do consumo, alta taxa de juros, desemprego estrutural e abertura da economia. A ideia era, como em outros momentos, fazer o bolo crescer para, somente depois, dividi-lo. A História mostrou entre quem.
Mas o fato é que em 1º de julho daquele ano o Real passava a circular. Dezesseis dias depois, o Brasil jogava a final a que assisti, agora, durante a quarentena. Nessa retransmissão, pude perceber as principais características daquela seleção armada pelo treinador, Carlos Alberto Parreira: valorização da posse de bola com toques curtos, de modo a dominar o jogo; variação tática, quando pressionava no campo adversário (4-3-1-2) e quando defendia em seu próprio campo (4-1-3-2); rápida recomposição e forte marcação quando perdia a pelota; ao atacar, um Bebeto que saía da área e abria espaço para que os laterais entrassem em diagonal e cruzassem a bola para um Romário, rei da grande área; no meio, um Dunga como grande articulador. Percebe-se que em 1994 entrou em circulação um plano perfeito: o Brasil, nos pênaltis, foi o campeão.
A reprise da final de 1994 não me impressionou pelo futebol que se jogava na época, nem pelas palavras que Galvão Bueno usava nas narrações. Tampouco pela estética da transmissão dos jogos. Comecei essa digressão por culpa de uma cena em particular, de que eu não me lembrava que havia acontecido. Após o pênalti perdido por Roberto Baggio, todos lembramos que o apito final foi mesmo o famoso grito do Galvão Bueno: “É tetra!!! É tetra!!! É tetra!!!”. É fácil também recordarmos que Galvão, enquanto gritava, era sufocado por Pelé, que um componente da comissão técnica deu uma cambalhota na beira do campo, que o elenco e o staff se abraçaram e que dançaram para a torcida.
Mas, o que agora me impactou foi mesmo uma cena bem no encerramento da transmissão. Creio que, inclusive na época, poucos observaram esse momento que descreverei, porque sentiam que a partir daquele momento não só o país, mas o mundo era nosso. E, por isso, ocupavam as ruas com as comemorações. Acontece que, em quarentena e durante essa desintegração nacional, a gente tem outra perspectiva sobre as coisas. Conforme a lição dos historiadores, isso acontece porque o tempo presente influencia o nosso olhar para o passado.
Somente domingo agora notei que as medalhas e o troféu de campeão foram entregues no meio da torcida. Parreira, terminada a premiação, desceu eufórico as arquibancadas com a taça nas mãos. O povo, em cada degrau que ele descia, queria encostar na taça. Vendo a ameaça do descontrole e o cerco dos seguranças, por um momento, pensei que o comandante da seleção teria o reflexo de carregar o troféu acoplado consigo, afastando-o dos torcedores. O protocolo, querendo evitar a qualquer custo que o troféu passasse nas mãos das pessoas comuns, garantindo a ordem e o privilégio de poucos, se queria dar um ar de importância àquela taça, pelo contrário, não permitia ver a dimensão que alcançara. Era como se fosse apenas um objeto valioso, de contemplação, por isso, passível de ser roubado e controlado por indignos, que poderiam querer tomá-la para si, passando de mão em mão, perdendo-se, com isso, a tutela.
Parreira, porém, gesto que só agora pude perceber a dimensão, ignorou a vigilância que separava povo e taça. Para a minha surpresa, de forma generosa e solidária, permitiu que aqueles que estavam mobilizados para vê-la a tocassem:
- Pode tocar que é nossa!
Dezesseis anos depois, fico pensando o que aconteceu com a nossa República. No caso da taça, foi necessário que o povo a encostasse para sacralizá-la.
2º lugar: Douglas Luís Binda Filho
Sem um osso
Minha professora mantém os cabelos presos com ossos. Na primeira vez em que percebi esse detalhe, pensei que era um artefato de plástico incognoscível, mas, na realidade, são ossos que ela tirou da própria costela. Ela costuma dizer: “Eu não devo nada a Adão. Não devo nada a nenhum homem que me atravesse.”
Os ossos prendem o seu cabelo e aderem a cada fio tão facilmente que é impossível descrever o peso dessa estética frígida e perigosa. Tudo isso é um manifesto contra a servidão, um lamento acerca da obediência, da morte compartilhada. Muita vida morre em obediência. Muita vida morre tentando viver.
Ela segura a dor com punho firme, víbora pulsante que é, apresentando ao mundo a sua revolta. Hoje, mede o tamanho das janelas da sala de aula e diz, inquieta: “Algum dia eu terei de sair daqui. Espero poder passar por essas fenestras.” Ela respeita e anseia pela explosão da finitude. Nós todos a olhamos sem compreender os motivos desses gritos carnais.
Está completamente convencida de que, a qualquer momento, quinhentos mil anjos entrarão com ações judiciais contra qualquer cidadão que não tenha mantido a boa linha dos cidadãos. Ela acredita em Deus porque, sem ele, tudo provavelmente terá sido apenas uma aventura infeliz e delirante. Ela acredita em seus olhos tristes, em nosso futuro político e em sua música favorita.
Agora, apresenta fotografias de pessoas que desapareceram, para exibir aos alunos uma nova teoria da conspiração: ela garante que Deus tenha coletado cada uma dessas pessoas para torná-las invisíveis. É ela quem, na verdade, quer ser invisível e não se lembra de questões como tráfico humano ou sequestro. A vida já é difícil sem entrar nesses detalhes excruciantes. Ela deixa bem claro, sentada em sua mesa de professora, que a vida é um osso que ela tira da própria costela para provar a todos que é possível andar sem dever nada a ninguém. Eventualmente, é motivo de risos e de controvérsias, como cada coisa que respira de forma diferente. Ela, no entanto, eleva-se, dizendo: “Sem um osso, eu sou mais que eles. Sem um osso, eu sou uma mulher inteira.”
3º lugar: Jonas Rosa dos Reis
Assim passam os dias
A estrada é sinuosa e triste. Corre estreita sob nuvens chorosas e junto a encostas de morros que viram passar seus pais e avós e os avós deles também. O carro segue tão lentamente que não precisa diminuir a velocidade nas muitas curvas do caminho. A tampa do porta-malas está levantada, uma boca do tempo que devora a vida. O colorido das flores que brotam das coroas amontoadas contrasta com o preto metálico da pintura. São gérberas que lembram a pureza infantil, margaridas com a impertinente missão de evocar alegria e pretensiosas rosas brancas fingindo harmonia e paz.
O caixão pode ser visto do cortejo que vem atrás, uma caravana de suspiros e desalento. O carro fúnebre desaparece em cada curva e então não existe mais, a mãe acorda do sonho ruim. Não, ele não morreu. Na verdade, não. Pegaremos o próximo retorno e ele estará em casa e me receberá com seu sorriso juvenil e me dirá: mãe. Mas a pista se endireita logo à frente, o carro reaparece e a realidade se impõe. É como se o filho morresse outra vez depois de cada espasmo do caminho que leva ao cemitério.
Maria me conta essa história com voz serena como a voz de uma prece. Depois de tantos anos, ela havia voltado à pequena cidade do interior apenas para sepultar o filho que fora passar as férias e morrera afogado no rio. Maria. Sobre quem nunca se poderia esperar o despejo de tamanho infortúnio. Seu sorriso angelical, o jeito interiorano, esses braços convidativos de um abraço, mãos fortes e ágeis, incansáveis para o trabalho.
– Eu mesma fiz aquela pedra do rio de trampolim. A gente era como ninhada de patinhos amarelos e felizes – ela murmura enquanto viaja no tempo, olhar distante, lutando para entender a tragédia. Vislumbro esboço fugaz de um sorriso na narrativa de sua dor, a natureza do coração bondoso e invariavelmente feliz esforçando-se para se impor à nuvem passageira do sofrimento.
– Ah, Maria – ensaio um consolo inútil, mas me falta o verbo. Carente de expressão, minha voz definha, e é ela que me conforta com carícia maternal. Escrever é tão mais fácil que viver. E só o faço algum tempo depois, protegido pela distância e pelo tempo e pela solidão branca de minhas paredes, abrigado dos escombros que sepultam os sonhos e o mundo lá fora. Ainda assim, que difícil escrever! Quase como a poesia para o poeta, a prosa pode dilacerar o coração, rasgar o peito e só assim florescer verdadeira, apta a receber abrigo e se aninhar suavemente na alma alheia, enriquecendo a existência.
– Como você soube? – Maria me olha com olhos de gratidão pela visita.
– Eu não soube – confesso num filete de voz. – Vim trazido pela ausência do seu tempero, saudoso das conversas amigas que tínhamos quando você aceitava se sentar à mesa do almoço.
Por um momento seus olhos se enchem de brilho, dois pequenos faróis iluminando o rosto marcado pelo luto. Aquele sorriso meigo, antigo habitante da minha casa. Nos anos em que Maria passara conosco, servindo como secretária do lar, viu meus filhos crescerem e partirem para o mundo. Então viu o ninho vazio e constatou que sua família precisava mais dela do que a minha. E se despediu.
Ela vive num bairro simples da periferia, e sua casa é limpa e aconchegante, cheirando a lar. No quintal, os netos brincam à sombra da mangueira que se esforça para sustentar tantos frutos. As galinhas ciscam o chão, moradoras de uma área cercada por tela de arame. Tião, marido dedicado, quer afastar da companheira a lembrança do filho perdido. Ele me leva a um depósito nos fundos do terreno e me distrai com apetrechos de pesca. Os muitos sóis no mar o deixaram com essa pele acobreada. As mãos, grossas e fortes, foram moldadas pelo esforço. Exibem, orgulhosas, as marcas de antigos cortes provocados pelo manuseio de redes, linhas, facas e anzóis.
– Prontim!
Maria chama a família para o almoço como chamava em minha casa, e o aroma sedutor que escapa da cozinha nos apressa a voltar. A mesa é simples, mas arrumada com esmero, os pratos e talheres dispostos de forma prática, sem os rigores da etiqueta. Há uma bandeja de arroz branco soltinho e fumegante e uma travessa de salada em que sobressaem as folhas de alface e grandes rodelas de tomate. O centro da mesa, que deliciosa lembrança, está ocupado com um pirex retangular fartamente preenchido com sardas à escabeche. Três quilos de peixe, as postas tingidas de vermelho com o molho consistente escorrendo de forma quase imperceptível de uma camada para outra.
Todos se dão as mãos. Maria inclina a cabeça e diz uma prece curta agradecendo o alimento e minha presença entre eles. Ouve-se o amém uníssono e ela me convida a me servir. Sirvo-me de uma grande colher de arroz e ao lado dele assento uma porção generosa do peixe. Formando um triângulo, junto uma boa concha de molho colhido no fundo da vasilha e observo o prato, admirado. Lembro-me das listas de compras e de feira preparadas por Maria em minha casa. Para este peixe certamente ela teria anotado limão suculento, alho, pimenta-do-reino, pimentão, coentro, cebola, tomate, corante ou colorau, azeite, ovos, farinha de rosca, Sazón vermelho.
À mesa Tião fala das gaivotas afoitas que sobrevoam o pesqueiro e sua mulher acha engraçado que eu me interesse. Quero saber se tem puxada de rede, ouvir dos grandes peixes, do balanço do barco. Me conta os segredos do mar, Tião. Das manhãs no azul borbulhante de vida, do horizonte dourado ao entardecer. E sobre o que sonham os pescadores na noite ondulante sob as estrelas: se ouvem o canto mágico e traiçoeiro das sereias ou se ocupa o coração apenas a saudade da carícia silenciosa no leito em terra firme, a paz das crianças ressonando no quarto ao lado.
Depois do almoço descansamos na varanda e observo Maria. Quando distraída, o semblante é triste. No entanto, nenhuma lágrima, ela é como poderosa nuvem carregada, mas contida, guardando seu pranto. Quando me disponho a deixá-los Tião me traz uma sacola com peixes congelados. Maria me abraça apertado. Sinto o nó na garganta e me pergunto se houve tempo em que era natural amar assim. Aceno para as crianças dessa gente humilde e de bom coração e atravesso o quintal em direção à rua. Lá fora um velho caminhão sobe a ladeira e ouvimos o lamento do motor cansado de tantos caminhos.
___*___

1º lugar: Ana Sophia Brioschi Santos
Vagamente
Carne e osso brejo errático
Acumulando noite e dia
Devir não veio na ribamba
Ribeira nome meu dizia
Dizia ‘Fulana’, uma qualquer
Que nome purga agonia
Vaga mundo em marcha ré
Teu nome é extremaria
Hoje rareia encontro novel
Entoar é teimosia
E mesmo o pássaro arrojado
Sonha longe em cercania
A poesia espera algo
Do que o dia conserva rápido
Do que o tempo recolhe átono
De quem pensa a hora fria
2º lugar: Luiz Celso de Oliveira Ferreira
Mulheres sobranceiras
(5 sonetos e um pequeno poema)
I
Servidão
No mais profundo silêncio da noite,
Na fria escuridão da madrugada,
Teu vulto me vergasta com o açoite
Da extrema solidão, indesejada.
Impõe-me a sina que me leva ao nada,
Em terra, no ar ou n’água em que me poite,
Dedicado amor, musa enfeitiçada,
Que te será, te é e sempre foi-te.
Co’ amarras, grilhões, mergulhado neste
Jogo de paixão, servo me fizeste,
Cego a todo encanto de outras mulheres.
Na eterna espera, ansioso, hei de ficar,
De simples gesto, ou mesmo de um olhar,
Esmola que por compaixão me deres.
II
Saudade merecida
Linda mulher, chegaste perigosa
A mim, adolescente inda sozinho,
Vindo tocar-me co’a maciez da rosa,
Depois ferir-me co’a agudez do espinho.
Excedendo limites, generosa,
Me deste amor, como se fosse um vinho.
Sorvi-te o amor, senti como se goza,
Ébrio, perdendo as dobras do caminho.
Adulto, hoje, passada a tempestade,
Na angústia das lembranças que me invade,
Do fim desse prazer aceito o preço.
Em todo amor intenso a gente cresce.
Tua vida teve o ganho que merece,
Herdei esta saudade que mereço.
III
Rendas brancas
Que saudade da brisa tão confiada,
Vindo beijar teu corpo e o rosto belo;
Do sol, que desferindo luz dourada,
Tingia teus cabelos de amarelo.
Que saudade da voz do mar, chorada,
Cantando aos teus ouvidos meu apelo
De amor, minha paixão enclausurada,
Como as areias da praia a contê-lo.
Que saudade da branca espuma, rendas
Brancas que a nossos pés eram trazidas
E ali depositadas como prendas,
Talvez para fazerem-se entendidas,
Talvez, quem sabe, pra fazer que entendas
Que só de ti dependem nossas vidas.
IV
Amantes
Enlaçados na teia de um segredo,
Nesta armadilha de estranho prazer,
Nos buscamos, no meu e no teu medo,
Coniventes de amar e de esconder.
Fugazes cenas, malicioso enredo
De amar sem alma, de possuir sem ter...
Atuamos juntos, sem saber se é cedo
Ou tarde demais para esquecer.
E assim nos colhem, ânsia dos amantes,
Em jorro de emoções alucinantes,
As repetidas ondas do proibido.
No fim, diremos bem deste pecado:
Que não ficamos sós, sem ter amado,
Que não morremos nós, sem ter vivido.
V
Eterna despedida
Busquei na tua ausência algum consolo.
Procurei, no teu vazio, a diversão.
Corri atrás de amores, como um tolo,
Tentei encher, de nada um coração.
Meu sentimento agora não controlo,
Vivo à deriva, uma nave que não
Consegue divisar seu próprio solo,
Insegura, perdida embarcação.
Algumas vezes te foste de mim.
Voltaste... e terminavam assim
As minhas mágoas, anseios, temores.
Hoje, sem retorno, alma partida,
Amargo tua eterna despedida,
Me afogo em pranto infindo destas dores.
VI
Fui... E sou mulher!
Quando nasci já fui predestinada
À triste sina das almas errantes,
Desde os primeiros passos, inconstantes,
À trilha fatal que reporta ao nada.
Da curta infância à podridão do mundo,
Da vida pobre e humilde, do marasmo,
À infame promiscuidade, ao sarcasmo
De ser lançada em lodaçal profundo.
Submetida a essa torpe, vil estrada,
Lascivo objeto de tantos amantes,
Sendo alvo de exigências humilhantes,
Traída no engano, ao ser desejada,
Doei-me toda, em muito catre imundo,
No estertorar de repugnante orgasmo.
Estremecendo em gozo a cada espasmo,
Como horrendo tremor de um moribundo.
Mas revolvendo, agora, esse passado,
Renego o fatalismo desse fado :
Para a mulher que fui componho um hino.
Para a mulher que sou, serena e forte,
Ao reverter a direção da sorte,
Devolvo a condução do meu destino !
3º lugar - Rodrigo Moreira de Almeida
Círculo
atravesso com o verbo o nome come o branco com o negro da letra grafo prossigo o escrito pouco a pouco o ouvido mouco ouve o som mudo a voz rouca e rala mas é o que há a ouvir mesmo que nada houver não finda a língua nem há mudez como a nudez do branco não estanco sigo a míngua do oco do nulo do nu que nutre a travessia a cada vez não cala a fala e tece o texto o inverso da conversa fiada e começa a comer a roer o ruído o prurido do vazio do discurso o excurso é o através sem meta só meto a letra não encurto nem ponho o ponto aponto a seta sigo indo prossegue sendo sem mim não cedo ao eu escrevo o uivo do som sem linguagem na viagem do homem ao regaço do fosso osso sem céu somente a selva e segue a sina ao húmus do mundo no escuro fundo do vácuo o logos gora logo no insosso dos troços destroços carcomidos que costuro cuspindo sentido ao acaso espremo sobras como restos do ser espesso fazendo a fala empaca no opaco a palavra não rasga o âmago de nada e zera e recomeça sem origem na vertigem rente ao chão sente a sorte do fado dado jogado ao léu ao deus dará luz no globo do olho cego sem nada a ver dentro da cebola sem centro e sigo a senda circundo o escudo da pele da coisa com o verbo e atravesso

